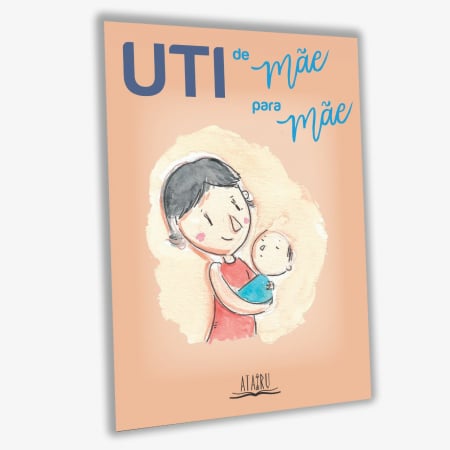Esta semana vivi uma situação constrangedora. Fui buscar na loja a roupa que encomendei pro meu filho. Era uma roupa para a aula de ballet da escola. Calça justa, sapatilha preta. A dona me recebeu na porta, sorridente e soltou mil elogios. “Você é uma mãe incrível” e por aí foi. Quem me conhece sabe que não sou lá muito boa em receber elogios quando acho que os mereço. Imagina quando não é o caso…
O motivo da empolgação era o fato de eu estar comprando roupa de ballet para um menino.
Meu filho gosta de música desde que nasceu. E, imagino que como consequência, gosta de dançar (daquele jeito fofo e desajeitado dos bebês dançarem). E ele frequenta a creche desde seus 10 meses, porque a mamãe e o papai trabalham em tempo integral.
A creche é um gasto significativo no nosso orçamento doméstico. Atualmente custa mais caro que a mensalidade do curso de graduação no qual sou professora. A maioria das creches particulares hoje oferece uma lista grande atividades, talvez numa tentativa de justificar o custo alto e também para os pais ficarem felizes com o fato das crianças não ficarem na escola o dia todo “sem fazer nada”. Não, elas têm aula de inglês, artes, música, física quântica, práticas esportivas. Um currículo completo, nos dizem.
A escola antiga do meu filho tinha ballet. Era parte do currículo. Tinha também futebol, no mesmo horário. Eu, sinceramente, acho que tanto fazia uma coisa ou outra. Mas futebol ele joga comigo e com o pai. Ballet, não. Nos falta a coordenação motora e a graça necessárias.
Eu sempre achei que a vida do meu filho ia ser mais fácil porque ele é homem. Ele não ia ouvir que não pode fazer algo porque é menino. Eu estava enganada. Ballet não é coisa de menino. Usar sapatilha não é coisa de menino. Por isso a empolgação da dona do loja comigo.
No entanto estamos em 2016 e ainda temos “coisas de menina” (que são “delicadas”, “princesas”) e “de meninos”. E isso é tão forte que o simples fato de um bebê de dois anos estar numa aulinha de ballet causa um celeuma. Na escola antiga tivemos que nos contentar com a tal aula de futebol porque a coordenadora pedagógica achou que um menino ficaria “entediado” no ballet. (Confesso que entendo isso. Passei minha infância inteira ficando entediada em atividades “pra menina”).
Na escola nova a chegada do meu bebê na aula de ballet foi todo um acontecimento. Porque ele é, claro, o único menino por ali. Teve outro, mas a mãe me contou que eventualmente o piá decidiu sair “por causa dos amiguinhos”. Entendi o que ela queria dizer na segunda semana de aula de ballet do meu filho, quando ele chegou em casa dizendo que as meninas disseram que ballet é “de menina”.
Eu poderia reclamar disso tudo. Mas para mim, a aula de ballet é algo que meu filho curte. É por isso que ele está lá. Quando deixar de ser legal ele vai fazer outra coisa. Ele não está lá para provar nada para ninguém (por isso meu incômodo com a empolgação toda da simpática lojista).
Mas apesar do constrangimento, percebo que há um componente político na vida de mãe. Na realidade, política é algo inerente a vida em sociedade. Mesmo que a gente não goste de usar o termo política, nossas escolhas, nossa ação tem significado político.
Na maternidade nossa vida política ganha mais força. Pelo menos pra mim, senti mais a necessidade de ser assertiva na defesa daquilo que julgo importante. Na prática, significa me impor quando não quero que outras pessoas interfiram em determinadas rotinas e hábitos do meu filho.
Quer um exemplo: não dei açúcar para o filhote até ele fazer 2 anos. A escola, no entanto, previa a oferta de Nescau para as crianças. Então conversei com a coordenação e as professoras e manifestei por escrito minha orientação para que ele não consumisse produtos com açúcar. E registrei minhas queixas todas as vezes que esse desejo foi desrespeitado.
Claro que esse comportamento me transforma na mãe-chata-que-reclama-de-tudo. No caso do ballet eu sou a mãe-louca-que-vai-causar-confusão-de-gênero-na-criança. Não me importo. O importe é, em primeiro lugar, o bem estar do meu filho. E em segundo lugar, que a gente pare de aceitar aquilo que é hábito (do tipo dar Nescau para bebês), mas que novas informações científicas nos mostram que podem ser ruim para as crianças.
Nós vivemos numa sociedade democrática. No entanto, a democracia não é presente. É luta. Ela só existe e se aprimora se a gente participar dela. Se reclamar o nosso direito de ser parte da educação de nossos filhos. Se a gente impor o nosso direito de ter nossas opiniões consideradas nas decisões de saúde das nossas crianças.
O importante de perceber essa dimensão política da maternidade é que a gente passa a discutir o que é realmente importante. Eu, por exemplo, fui aprender que escolher uma escola para o pitoco é mais do que garantir que os espaços são limpos, que o material usado é adequado e que o número de professoras é suficiente. É importante também ver o quanto a escola está disposta, ou não, a dialogar com os pais.
Sobre isso eu poderia escrever mais um bocado, mas deixo vocês com as palavras da Rosely Sayão:
Notem que é como a Sayão fala: queremos diálogo. Porque há sempre uma relação dos pais com a escola. Mas muitas vezes ela é a de consumidor e empresa. No entanto, apesar de ser um negócio, de ter que dar lucro, a educação não é como vender peixe. Há algo de muito mais fundamental em se trabalhar com isso. É lidar com um direito, com a dignidade humana.
E por que dialogar com a escola? Vamos pegar o exemplo do ballet? A princípio não é papel da escola ensinar valores. Esses viriam de casa (apesar de muita campanha publicitária por aí vender a ideias de que forma ‘cidadãos’). No entanto, o sexo e o gênero não são assuntos marginais na escola. Eles entraram pela porta da frente, quando na década de 1980 a epidemia de AIDS e os índices de gravidez na adolescência tornaram urgente a necessidade de informar crianças e jovens sobre o assunto.
Claro que não é só na educação sexual que o trabalho da escola visita esses temas. O currículo é cheio de decisões político/ideológicas que esbarram em questões culturais e sociais, entre elas a de construção da identidade de gênero. Só que quando a escola faz essa opção ela precisa dialogar com a comunidade, seja a dos pais, seja a comunidade em geral. A escola presta contas à sociedade, que já não é a mesma dos anos 1980. Hoje o Estado brasileiro reconhece que há diferentes orientações sexuais e que não é aceitável discriminar gênero. Então por que é que a escola pode decidir que uma atividade é “pra meninas”?
Mesmo fora do âmbito comportamental temos visto a educação precisar rever suas práticas. Hoje a ciência reconhece que pessoas diferentes absorvem e desenvolvem informações de forma diferente, expondo o quanto metodologias que só favorecem um tipo de processo cognitivo são falhas. Então não cabe mais à escola rejeitar aquelas crianças fora do que ela considera “normal”. Ela precisa receber e acolher o diferente. E como fazer? Com diálogo, com democracia e com informação.
É aí que a política da maternidade se revela. Mães e pais têm poder de mudar ou acelerar a mudança de paradigmas falhos. Esses esforço pode até começar em prol do filho, mas se bem direcionado pode fomentar uma discussão que é benéfica para a sociedade como um todo. Mesmo que a família não encontre acolhimento nesse diálogo com os educadores, no mínimo ela ensinou aos filhos algo essencial: que a democracia somos nós.